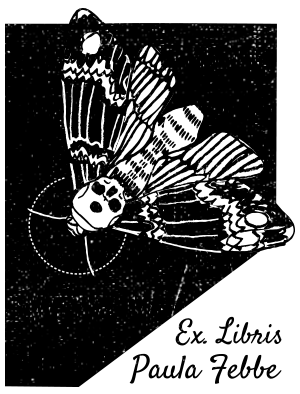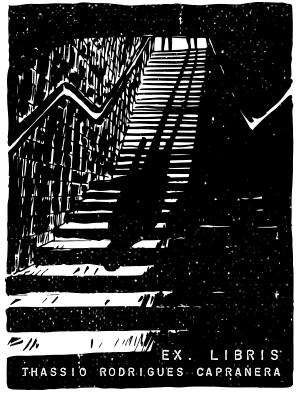Um jovem casal que pretende escrever um TCC sobre “A visibilidade das pessoas solitárias na cidade de São Paulo” é abordado por um jornalista desempregado num ônibus noturno. É o ponto de partida para O frio de julho, de Rodrigo Romani, que nos leva pela madrugada dos bares fechando junto aos três, ao descobrirem que procuram pela mesma mulher. Quanto mais a noite se estende, mais claro fica que a desaparecida corre sérios riscos. O autor, que vive o subterrâneo cultural paulistano desde 2004, busca “convencer os leitores de que não existe futuro para quem não possui um presente, para quem, na verdade, nem existe, só faz sombra”.
– Eu não me lembro da última vez vi ela…
– Pois é… eu também não!
– E, além da gente, duvido que alguém tenha notado o sumiço dela!
– Certeza que não… nem o Seu Marchand.
– Que Seu Marchand?!
– O dono do boteco da rua de baixo da minha casa; Dona Gisela não sai de lá.
– Como você conhece o dono do boteco da rua de baixo da sua casa, Carol?
– Eu assisto os jogos lá, ué.
– O loco, cê nunca me falou que vê jogo de futebol em boteco!
– Ôxi, por que cê tá falando desse jeito, com esse tom pejorativo?
– Sei lá, é estranho, só isso.
– Estranho uma mulher vendo jogo em boteco, Sr. Deodato?
Deodato, namorado de Carol há algumas semanas, fica mudo por alguns segundos, mas acaba mantendo sua posição.
– É… é estranho sim. Sei lá, boteco não é lugar pra gente que nem você.
Carolina fica indignada com Deodato e na tentativa de manter a compostura, vira-se para trás tentando ignorá-lo. Ao se virar ela percebe um homem de meia idade inclinado no banco atrás deles, praticamente dentro de sua conversa com Deodato. De costas para o casal, o homem de meia idade parece não notar a desconfiança dela, então Carolina aproveita-se da situação para cutucar o namorado e o alerta, sussurrando em seu ouvido.
– Esse cara aí atrás tá ouvindo nossa conversa.
Ela sinaliza em direção ao homem de meia idade com a cabeça e quando Deodato se vira para olhar, o tal cara já não está mais sentado naquele lugar.
– Não tem ninguém sentado atrás da gente, Carol.
Carolina vira-se abruptamente, por reflexo, para verificar se o que Deodato a dissera era realmente verdade e então sente uma dor violenta, como se algo quente houvesse penetrado seu pescoço, suas veias, invadindo sua cabeça. Uma dor forte o suficiente para fazer qualquer pessoa gritar, mas ela emite apenas um leve e tímido gemido.
– O que foi, Carol?
– Aiii… meu pescoço tá queimandooo!
– Como assim, Carol?
– Espera. – Ela sussurra.
– Tudo bem aí, moça?
De pé, ao lado do banco onde o casal está sentado, alguém tenta descobrir o que houve com Carolina. Deodato, aflito, sinaliza com as mãos e a cabeça mostrando que não está entendendo, depois responde dizendo que não faz ideia. Já se recuperando, mas ainda com as mãos no pescoço, Carolina diz que está bem enquanto, de cabeça baixa, tenta alongar o pescoço virando o rosto de um lado para o outro lentamente, inclinando a cabeça para um lado e para o outro, depois encostando o queixo no peito enquanto puxa a cabeça suavemente para frente com uma das mãos.
– Tá tudo bem, isso acontece às vezes quando eu movimento a cabeça de forma brusca. Meu pescoço queima, é isso.
– Certeza?
Carolina olha para ele e finalmente percebe que conversa com o homem que, há poucos minutos, ela havia notado sentado no banco de trás com um comportamento estranho. Com cuidado, ela movimenta com a cabeça para ratificar a resposta que já havia dado naquele mesmo instante.
– Bora, Carol… chegamo na estação.
– Eu também desço aqui. Posso acompanhar vocês. – O homem alerta.
O casal se olha e Carolina, tentando esconder seu nervosismo pelo envolvimento daquele homem, rejeita a proposta.
– Não precisa, eu tô bem, isso sempre acontece.
Então, ao olhar para o ferro onde se apoiaria, Carolina sente nova pontada e desta vez o grito de dor vence a batalha e, livre, ressoa no ar por todo o vagão resfriado pelo forte ar-condicionado. Ao redor, as poucas pessoas presentes olham uma para as outras, depois para as três personagens em cena e passam a observam a situação.
– Carol!
O metrô chega à estação e o homem oferece ajuda novamente, desta vez diretamente a Deodato, para que ele consiga levantá-la do banco e juntos saírem dali. Ele aceita e os dois se posicionam, Carolina entre os dois, oferecendo apoio a ela que, confusa, segura-se em ambos e se levanta sem muito esforço. Então caminham juntos para fora do vagão no momento em que soa o aviso sonoro, fazendo com os três sintam seus corações acelerarem.
Já caminhando pela plataforma, o dedicado homem que outrora fora flagrado em um comportamento estranho e automaticamente passado a ser observado com suspeição por Carolina, decide acompanhá-los por toda a estação, como quem está ali única e exclusivamente para dar segurança à garota. Deodato percebe sua intenção e acata, contrariando Carolina que aperta seu braço como sinal de insatisfação.
É noite de 3 de julho. É inverno desde o dia 21 do mês anterior, mas faz calor; um calor irritante, úmido que abafa toda a área que se estende desde da região de embarque e desembarque dos passageiros até poucos metros antes de o trio se aproximar das escadas, por onde uma corrente de ar um pouco menos quente se movimenta de forma tímida, mas com intensidade suficiente para tornar a jornada de volta para casa um pouco mais agradável.
Despretensiosamente, o homem de meia idade pergunta a Deodato:
– Vocês moram longe?
– Jd. Santa Flor, perto da Vereador Mascarenhas, tá tranquilo.
– Sei, conheço ali. Tenho amigos do colegial que moravam por aqueles lados. Vocês vão pegar o ônibus ali na rua da igrejinha, né?
– Sim.
Agora em silêncio, eles caminham lentamente até chegar ao ponto de ônibus onde, pesados, o casal se senta suspirando com um alívio de quem gostaria que o dia tivesse terminado naquele exato momento.
Após alguns segundos calados, Deodato pergunta ao homem de meia idade que os acompanhou até ali e permanece com eles, agora velando-os.
– Você faz o que?
– Desculpe, nem me apresentei a vocês. Meu nome é Douglas, sou jornalista. – Ele responde enquanto observa Carolina sentada de cabeça baixa, massageando o próprio pescoço e estende a mão a Deodato.
– Legal… prazer.
– E vocês? Devem ser estudantes, certo? Você é a Carol, não é isso?
– Sou. – Ela responde, mantendo a cabeça baixa.
– E eu sou Deodato, a gente tá fazendo faculdade de Serviço Social.
– Muito bom.
Douglas se mostra amigável com o casal lhes oferecendo chiclete, enquanto retira do bolso um da caixinha de metal para si.
– Eu quero sim, tá começando a me dá fome.
Deodato estica o braço para pegar um chiclete e Carolina assiste à cena novamente contrariada. Douglas aponta a caixinha de metal para ela, mas ela não aceita. Então a recolhe e a coloca de volta onde estava.
– Cê trabalha onde? – Deodato pergunta.
– Na verdade estou desempregado.
– Sério? É foda…
– É, mas tive hoje uma reunião com um jornalista aí, renomado até. Talvez eu consiga algo. Vamos ver.
– Que bom!
– Sim.
Os três ficam em silêncio e a noite parece começar a se refrescar. Deodato apoia a cabeça de Carolina no ombro e Douglas permanece assistindo à cena em pé, de frente para o casal.
Após alguns minutos, Carolina rompe o silêncio:
– Em qual área cê trabalha?
Douglas pensa por uma fração de segundo antes de responder.
– Investigativa, criminal.
– Olha! Que da hora, eu também gosto desse tipo de jornalismo. – Deodato se empolga.
– Que bom. Eu tenho fascínio mesmo por histórias urbanas, inclusive por lendas.
Carolina, desconfiada, olha para Deodato, enfia a mão na bolsinha que carrega pendurada em seu ombro esquerdo. Com movimentos ligeiros, ela tira de lá uma nota de dez reais e a estende a Douglas.
– Será que cê pode pegar uma água com gás pra mim ali com o tio do isopor marrom? Minha garganta secou.
Ela aponta com a cabeça em direção ao ambulante e Deodato se espanta com sua atitude inesperada, se prontificando a fazer o serviço ele mesmo.
– Deixa que eu…
– Não… fica aqui comigo, tô com medo de a dor voltar. – Carolina o interrompe.
– Tranquilo, fica aí com ela que eu pego.
Douglas apanha a nota e começa a traçar seu caminho em direção ao ambulante. Dá alguns poucos passos e se vira novamente para o casal, surpreendendo Carolina que ansiosamente tenta prender a atenção do namorado.
– Água com gás, certo?
– Isso… por favor. Se quiser pegar uma pra você, pode pegar. Quer também, Deodato?
– Não, valeu.
Douglas retoma o caminho até o ambulante sem olhar para trás. Sentada, Carolina puxa suavemente a cabeça de Deodato para que seu ouvido chegue mais perto da boca dela.
– Eu tô achando muito estranha essa coincidência, Deodato.
– Que coincidência, Carol?
– Eu tenho certeza que esse cara tava ouvindo a gente falar sobre o sumiço da Dona Gisela. Aí, de repente, o cara vem e fala que é jornalista investigativo e que gosta de histórias urbanas?
– Deve ser por isso que ele se interessou pela nossa conversa, Carol.
Carolina para de respirar por instantes, aparentemente confusa.
– E outra, a gente não tava falando baixo, então ele deve ter ouvido. Como um bom jornalista, manteve o foco na história, na esperança de ser algo com o que ele poderia trabalhar. Ainda mais porque ele tá desempregado.
Carolina respira fundo, como quem relaxa ou se livra de um pensamento ruim, suspira ruidosamente e retoma a conversa em um tom mais suave.
– Então a gente podia falar sobre a Dona Gisela com ele e…
– É o que eu tava pensando agora mesmo, Carol. – Deodato a interrompe.
– É… mas será que ele vai se interessar? Como jornalista, pode ser que ele, pelo menos, nos ajude orientando e direcionando a gente na investigação. Sei lá, ainda tô com um pé atrás com ele.
– Claro que ele vai ele querer ajudar! Carol, fica tranquila, eu tô aqui com você.
Deodato massageia o pescoço da namorada e beija-lhe a cabeça, ela novamente se encosta em seu ombro.
– Tá aqui sua água e o troco.
O casal se assusta, deixando Douglas constrangido e confuso.
– Desculpe, não quis assustar vocês.
– Tudo bem. – Carolina responde, tentando se familiarizar com a ideia de dar confiança ao estranho jornalista.
– Você tá melhor?
– Tô melhor, obrigada pela a ajuda.
– Disponha.
Douglas permanece em silêncio por alguns segundos, olhando a tela de seu celular e então decide ir embora.
– Bom… já que você tá bem, vou deixar vocês em paz e tomar meu rumo.
Carolina estende o braço e toca a mão de Douglas, que fica paralisado olhando para ela.
– Espera, você mora onde?
– Aqui mesmo, numa vilinha que tem a duas quadras do metrô, do lado de lá da avenida.
– Legal, posso eu te fazer uma pergunta?
– Claro, fique à vontade.
Carolina solta a mão de Douglas; o clima entre os dois se tornara mais suave após a conversa que ela havia acabado de ter com Deodato.
– Você disse que é jornalista e que trabalha com investigação criminal e histórias urbanas, certo?
– Basicamente.
– Legal! – Deodato se empolga novamente.
– Inclusive na reunião que tive hoje, propus fazer uma investigação sobre alguns desaparecimentos que ocorreram nas últimas semanas. São casos bem peculiares, envolvendo pessoas que moram sozinhas, totalmente solitárias. Elas simplesmente deixaram de ser vista pelos seus vizinhos e eu sei de três casos já: dois no centro, perto do Vale do Anhangabaú, e um no Bairro do Sabino.
O casal se olha espantado e então Deodato abre o jogo com Douglas.
– Cara, seguinte, é exatamente disso que a gente quer falar.
– Vocês conhecem alguma dessas pessoas? – O jornalista e espanta.
– Não, a gente conhece alguém que pode ser uma quarta vítima. – Carolina responde.
Douglas, aparentemente surpreso com a informação, permanece em silêncio dando condições para que o casal prossiga com o relato. Carolina continua.
– O nome dela é Gisela, ela vive sozinha em uma casa antiga, bem pequena, na minha rua. Faz alguns dias que não vejo ela, mas como ninguém costuma perceber que ela existe, não deve nem ter queixa disso na polícia.
– E como você percebeu isso? Você tem certeza que ela sumiu? Ela pode ter viajado ou até mesmo estar morta em casa, não se sabe.
– Que horror, cara! – Deodato o reprime.
– Não… ela não tá morta. Pelo menos não dentro de casa. – Carolina afirma.
– E como você tem tanta certeza de que ela não está lá?
– Eu fui lá checar, a porta tava aberta e…
– Você invadiu a casa da mulher? – Douglas pergunta com admiração.
– Mais ou menos… é que o Deodato e eu estamos fazendo um TCC sobre a visibilidade de pessoas solitárias dentro da…
– Então vocês notaram o sumiço dela… entendi. Devem ter sido os únicos mesmo. Mas ainda assim, como você garante que ela não está viajando?
– O guarda-roupa dela tá cheio, encontrei umas malas guardadas. Eu revirei tudo ali, parece que ela saiu e simplesmente não voltou mais.
Douglas segue acompanhando o relato de Carolina.
– Outra coisa… ela tem um papagaio e jamais viajaria sem pedir pra alguém cuidar dele!
– Exato! – Deodato concorda.
– Entendi.
– E pelo que você acabou de dizer sobre o sumiço de outras três pessoas, ela pode ser mais uma vítima! Sei lá, de repente tem um assassino em série solto por aí!
Carolina termina o relato com excitação e Douglas deixa escapar um leve sorriso antes de tentar tranquilizar o casal.
– Eu acho difícil, ela mora muito longe dos lugares de onde as outras três pessoas sumiram. Além disso, até agora são apenas pessoas desaparecidas, ninguém sabe se foram assassinadas.
O ônibus pelo qual o casal espera chega, então Douglas se despede.
– Não… vem com a gente! Quero mostrar onde ela mora e o material que temos sobre ela, tenho certeza que você vai se interessar!
Carolina implora, já totalmente desapegada da desconfiança que tinha pelo homem de meia idade que se comportava de forma estranha cerca de trinta minutos atrás. Douglas permanece parado de frente para o casal.
– A não ser que você precise realmente ir embora agora, claro.
– Não, não preciso, mas acho melhor eu dar meu contato pra vocês e marc…
– Não, cara… tá tranquilo. – Deodato o interrompe.
– É, vem com a gente… eu não vou conseguir dormir hoje se não aproveitar essa coincidência pra tentar fazer alguma coisa pela Dona Gisela. Tenho certeza de que ela tá precisando de ajuda, eu sinto isso!
Pensativo, Douglas encara o casal enquanto o motorista do ônibus manobra o veículo numa tentativa frustrada de estacionar o mais próximo possível da calçada; a metade de trás do coletivo estava praticamente sobre a calçada enquanto que a porta de entrada estava afastada da sarjeta em cerca de um metro. Um vento gelado agora toma conta da rua, trazendo a certeza de que o tempo finalmente está virando.
Carolina abraça Deodato, sentindo seu corpo se arrepiar e lamenta
– Nossa, Deodato, agora vai ficar frio de vez. Pior que eu tô sem blusa.
– Vem, vamo entrar logo então.
Douglas permanece parado olhando para o casal em silêncio. Então Carolina lhe dá um ultimato.
– Você vem ou não?